O Sofrimento Pastoral
- Clarice Ebert
- 5 de ago. de 2017
- 14 min de leitura

Suicídios, descompensações ou sofrimento de pastores facilmente são explicados por problemas pessoais ou familiares ocorridos em pessoas já fragilizadas, até mesmo depressivas. Raramente se coloca em questão a organização do ministério (incluindo as tarefas e as relações interpessoais) ou o funcionamento da instituição (igreja/denominação). Essa tendência já foi resultado de pesquisas em outros ambientes organizacionais do trabalho. Parece que além da ideologia produtiva do mundo empresarial, os meios eclesiásticos também importam, cada vez mais, a sua forma de cuidar e amparar os seus pastores.
O texto apresentado a seguir aponta para essa reflexão. Foi publicado na Revista Psicoteologia, Edição nº 58, 2º semestre de 2016. (http://www.cppc.org.br/edicao-58/).
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
O SOFRIMENTO PASTORAL
O fato de haver um aumento significativo de notícias relatando pastores chegando ao extremo do suicídio e pesquisas sinalizando o trabalho pastoral como propenso ao adoecimento deveria ser um estrondoso alerta de que algo não vai bem com boa parte do contexto eclesiástico. Infelizmente ainda há muita resistência para avaliações do sistema como um todo, sendo mais recorrente aumentar o fardo de uma única pessoa ou família. Obviamente, sabe-se que há pastores com problemas de ordem pessoal e familiar que levam à colheita de frutos amargos de sua semeadura na caminhada ministerial. No entanto, esse pode não ser o único ângulo a ser avaliado. Pois temos também bons pastores adoecendo pelo caminho, perdendo a esperança e a alma numa desumanização sistemática no desempenho de suas funções ministeriais.
O trabalho pastoral, seus desafios, bem como suas implicações físicas, psíquicas e sociais para a saúde do pastor, já foi alvo de pesquisas, dentre as quais podem ser citados os pesquisadores: (a) Lotufo Neto (1997), que fez um mapeamento da prevalência de transtornos mentais entre ministros religiosos; (b) Oliveira (2005), que buscou saber como é o cuidado de quem cuida, referindo-se ao cuidador pastor; (c) Silva (2004), que pesquisou especificamente sobre as vivências de prazer e sofrimento que envolvem a profissão pastor; (d) Ebert e Soboll (2009) que buscaram identificar a organização pastoral e suas vivências pelo viés da Psicodinâmica do Trabalho. Apesar de cada uma dessas pesquisas focarem uma linha específica de investigação e análise, há um consenso em torno de que o trabalho do pastor evangélico abarca inúmeros desafios, os quais interferem significativamente em sua qualidade de vida.
O estudo de Silva (2004), como também de Ebert e Soboll (2009), aponta para uma semelhança entre o trabalho pastoral e o trabalho no mercado secular na exigência cada vez maior do líder, acarretando em alterações físicas, psíquicas e sociais. As exigências estabelecem que “ser apenas um bom pregador dominical não basta, tem que ser também um bom vendedor de bens (simbólicos ou reais), um bom líder comunitário, um bom radialista, um bom advogado, psicólogo, político etc.” (Silva, 2004, p.160).
A semelhança entre o trabalho pastoral e o trabalho no mercado secular tem uma relação com a importação de treinamentos de liderança do contexto empresarial para o treinamento de líderes do contexto religioso. A boa organização da área administrativa e estrutural nas igrejas pode ter recebido um impacto positivo. No entanto, juntamente também se importou a ideologia do mercado consumista, que pouco tem a ver com o sentido de ser igreja. Na ótica dessa ideologia o objetivo de tudo que se faz é a produtividade. E assim foram-se redefinindo os objetivos da instituição religiosa. Passou-se a acreditar que da mesma forma como um empresário é reconhecido como um líder de sucesso quando sua empresa cresce e fica grande, o “pastor bem sucedido” seria aquele que tem uma igreja grande, em franco crescimento, cheio de estratégias mobilizadoras e empreendedoras, visão, missão e metas desafiadoras etc. As pessoas, nessa ótica ideológica, passam a ser meros objetos de interesse para se alcançar a almejada meta da produtividade. Dessa forma, instalam-se pressões de toda ordem, muitas vezes com manejos complicados de “gestão de pessoas”, permeados de assédios morais altamente espiritualizados. Vai-se machucando e descartando as pessoas que não se adequam às demandas de crescimento e às estratégias impostas por líderes, “capitães” de igrejas (muitas vezes perversos). Ao invés de pastores, temos cada vez mais executivos eclesiásticos, com estratégias empresariais de crescimento da igreja, em que discipulado e cuidado de vida, por exemplo, mudou de nome, agora é coaching ou mentoria. Quem não se adequa, assim como numa empresa, corre o risco de ser descartado (demitido). A ameaça de descarte instala medos, competições, gera pressão para trabalhar mal e subserviência a culturas institucionais que pouco tem a ver com o funcionamento do “Corpo de Cristo”. Boa parte das pressões impostas por parte dos pastores aos seus membros já foi imposta anteriormente a ele pela instituição que o “contrata”.
Segundo Silva (2004) diante das transformações sociais e a diversidade do mercado religioso, o pastor evangélico enfrenta inúmeras exigências, como por exemplo: cada vez maior produtividade (ganhar um maior número de fiéis); excelência; polivalência do líder; adequação à demanda (novas teologias, horários de cultos); maior qualificação do líder; aumento da qualidade do produto (culto atrativo), entre outras. Esse aspecto foi percebido pelo autor em sua pesquisa sobre a profissão pastor, num estudo comparativo entre duas igrejas evangélicas de diferentes orientações denominacionais. Os resultados apontaram que, assim como nas organizações não eclesiásticas, as organizações religiosas possuem características como competitividade, ritmo de trabalho excessivo, forte cobrança por resultados e um desgaste físico e psicológico. O pesquisador concluiu que no trabalho pastoral há uma busca por afirmação e crescimento organizacionais, pautados por uma ênfase qualitativa, bem como quantitativa, sendo esses ingredientes necessários para obtenção de melhores resultados ou mesmo para permanência no mercado religioso, o que exige cada vez mais da organização e principalmente de seus líderes. Os mecanismos de competitividade se instalam entre os pastores em uma mesma denominação e mesmo entre denominações diferentes.
Percebe-se um aumento dessas demandas no contexto ministerial que seguem na contramão de propostas muito bem intencionadas que buscam incentivar a divisão dos fardos ministeriais por meio de pastoreio de pastores. Contextos de competitividades colocam freios para pastores dividirem suas angústias, dificuldades e sofrimentos. O discurso gira mais em torno de contar vantagem de um sobre o outro, tanto em termos numéricos, como na habilidade de liderança e capacidades administrativas. Tudo muito espiritualizado, como se as diretrizes, habilidades e destrezas que se possui fossem unções específicas dadas por Deus e que serão o estopim de um grande avivamento para os demais. Geralmente compartilhadas como uma “visão recebida de Deus”. E a disputa gira em torno de quem é mais místico e mais capaz de se emparelhar com a vontade de Deus, sendo que os resultados numéricos de membros, finanças, departamentos e equipes seriam uma amostra concreta disso.
Como resultado, temos BONS líderes adoecendo, perdendo a alma, virando “robôs” automatizados, num discurso que já não mais transforma vidas e a mensagem de esperança, muitas vezes não alcança nem mesmo quem a professa. O sofrimento vai-se instalando e minando o sentido do chamado ministerial que é “pastorear ovelhas”. Aliás, membros buscando por pastoreio estão cada vez mais escassos. A busca crescente é por entretenimento ou sensações arrebatadoras advindas de fora como se fossem experiências com Deus. Obviamente as raízes não alcançam profundidade. O pastor, nesse universo seria um mero promotor de eventos, ou um animador de auditório, ou um estrategista, ou um administrador dos números eclesiásticos, ou um executivo, ou um coach, ou um CEO etc. Os membros acabam se comportando como clientes altamente exigentes. Essa vivência pastoral vai gerando uma dissonância cognitiva, uma vivência contraditória para o pastor, entre o seu chamado e o que pode realizar de fato em seu ministério. Ele foi chamado para cuidar de pessoas, mas na prática exige-se que seja um empreendedor e administrador de números, em que sobra pouco espaço para o cuidado de vidas de fato. O termo empreendedorismo em pauta remete também a uma lógica do mundo corporativo, que coloca o indivíduo como responsável, tanto pelo sucesso, como pelo fracasso. Se obtém sucesso é porque é um “grande homem de Deus”, caso fracassar é porque não é espiritual, não tem dom ou unção, é fraco, não sabe mobilizar pessoas, e por aí afora.
A lógica da ideologia de sucesso não está presente apenas em instituições religiosas, mas também em outros meios produtivos. Nessa lógica busca-se o sucesso naquilo que se faz e produz, sendo que não há espaço para o fracasso (Pagès, 1993, Enriquez, 1997a). No entanto, ainda que a ideologia do sucesso prime pela excelência de seus líderes nos mais variados meios organizacionais, se apresenta como diferencial para o trabalho pastoral. Para o pastor ainda é requerida a condição de irrepreensibilidade que recebe contornos de infalibilidade. Pois além das exigências altíssimas quanto ao desempenho de habilidades relacionadas à atividade, acrescenta-se a exigência de um padrão moral elevado por meio do qual é exercido um controle não apenas de seu trabalho, mas também de sua vida pessoal e familiar. Ao internalizar a expectativa da infalibilidade depositada sobre ele, o pastor a adota como sua e passa a atuar conforme o esperado, ou seja, um modelo, exemplo, referencial de vida a ser seguido (Silva, 2004). Diante da exigência de irrepreensibilidade para o exercício pastoral o líder religioso pode assumir uma manutenção de uma imagem de líder de sucesso. Líderes com características de “executivo eficaz”, em um mundo cada vez mais complexo, “lutam para manter uma aparência de controle e domínio sobre a situação” e acabam por manter seu próprio mito ao gerarem uma imagem de “controlabilidade e simplicidade” (Wood, 2001, p.152). A manutenção dessa imagem é impulsionada pela exigência de excelência absoluta, tanto na produtividade como na conduta, que sinaliza um convite para a superação contínua que exige trabalhar mais e sempre melhor (Wood, 2001). O ideal de infalibilidade funciona para os pastores como um controle interno e constante, para além das relações de trabalho. O que leva a uma monitoria constante, sem tréguas, em sua vida pessoal e familiar.
Para Dejours (2007), devido os trabalhadores estarem sempre submetidos à pressões e sofrimentos no trabalho, ocorre um ajuste entre a subjetividade e a organização do trabalho. O pesquisador percebeu isso ao estudar situações de trabalho geradoras de sofrimento para os trabalhadores e observou que em todas essas situações, os implicados no sofrimento no trabalho mobilizavam, entre outros processos, estratégias, tanto individuais como coletivas para lidar com seus sentimentos e continuar trabalhando. O autor afirma que para isso são utilizadas estratégias de mediação do sofrimento que podem ocorrer por duas vias. Uma é quando o trabalhador lida com o sofrimento via estratégias defensivas e outra é por meio de mobilização subjetiva (Ferreira e Mendes, 2003).
As estratégias defensivas são mecanismos de negação e/ou racionalização do sofrimento e do custo humano negativo causado pelas contradições e pelos conflitos vivenciados no contexto de trabalho, que, muitas vezes são inconscientes, individuais e/ou compartilhados por um grupo de trabalhadores. A estratégia defensiva via negação se caracteriza como uma naturalização do sofrimento e das injustiças sofridas no trabalho, ou até mesmo uma supervalorização dos resultados positivos, das vantagens e dos fracassos (Ferreira e Mendes, 2003, p.57). Esse mecanismo é acionado “por comportamentos de isolamento, desconfiança, exacerbação do individualismo, banalização das adversidades do contexto de produção e eliminação do coletivo de trabalho, ao não considerar a história que o produziu” (p.57).
O estudo de Ebert e Soboll (2009), que buscou compreender a organização do trabalho pastoral, apontou que entre as estratégias de mediação do sofrimento os pastores utilizam principalmente o distanciamento do contexto de trabalho por meio do isolamento, do individualismo, da espiritualidade e das atividades compensatórias. Estas defesas se estabelecem ao retirarem-se das atividades, da organização e das pessoas relacionadas ao seu ministério. A espiritualidade é exercida por meio de orações, meditações, leitura da Bíblia e outras literaturas relacionadas. Nas atividades compensatórias buscam renovar suas energias através de descanso, viagens, reflexão, estudo e cuidado com a saúde. Estes momentos podem incluir a família e as vezes os amigos de maior intimidade, que não são muitos. Essas estratégias seriam como que válvulas de escape, em busca por um fôlego novo, para posteriormente retornar à adaptação na realidade geradora de tensão, que exige do pastor um estado de alerta contínuo e sem tréguas.
O isolamento é apontado por Ferreira e Mendes (2003) como um dos comportamentos característicos da estratégia de defesa de negação, em que se busca um autocontrole por meio do distanciamento da atividade, para poder resistir ao sofrimento e se manter trabalhando. A resistência é característica do individualismo, sendo que o indivíduo resiste numa defesa do silêncio, da cegueira e da surdez (Dejours, 2001). O autor refere que nessa estratégia cada indivíduo se preocupa em resistir e para que consiga fazer isso é necessário fechar os olhos e os ouvidos ao sofrimento de outros. O individualismo emerge diante de um sentimento de impotência frente às situações causadoras de sofrimento “como falta de cooperação, de confiança, de compartilhamento de regras, separação entre planejamento e execução das tarefas, e pela desestruturação das relações psicoafetivas com o coletivo de trabalho” (Mendes, Borges e Ferreira, 2002 p.34-35). Diante de ideologias estabilizadas e refratárias surgem “o desencorajamento e a resignação diante de uma situação que não gera mais prazer e não ocasiona senão sofrimento e sentimentos de injustiça” (Dejours, 2007, p.58).
O individualismo, além de ser uma estratégia defensiva para a realidade dos pastores, pode também servir de manutenção da imagem mítica de líder, visto que se houver uma socialização das fraquezas pode correr o risco de perder a aura de liderança divinizada.
No entanto, o processo de naturalização do individualismo tem uma função alienante e de ocultação das relações sociais. O risco de alienação ocorre quando as estratégias se transformam em “ideologia defensiva” (Dejours e Abdoucheli, 2007, p. 130). Nela os indivíduos passam a se integrar e identificar com a organização, de forma que seus valores passam a ser seus próprios valores e se transformam em instrumentos submissos e dóceis, acreditando, que são autônomos, no entanto, são explorados no trabalho. Dessa forma a submissão também passa a ser uma das estratégias de mediação do sofrimento.
Geralmente a própria instituição propicia as estratégias de distanciamento do pastor para lidar com o sofrimento no ministério. Segundo Dejours (2001) criar as condições para que descarregue suas energias numa estratégia de defesa, e não numa mobilização recriadora do que faz sofrer, nada mais é do que uma forma de controle para manter o trabalhador dedicado à aceleração do trabalho, com finalidade de alta produção para a organização.
A estratégia de mediação do sofrimento pela via da espiritualidade é um recurso importante para mediar o sofrimento. De acordo com os parâmetros da religiosidade deve-se considerar que as atividades do exercício pastoral estão intrinsecamente atreladas a eles, sendo que pertencem ao conteúdo da própria tarefa pastoral. As explicações pela via da religiosidade fortalecem o sentido vocacional, que busca transcender aos interesses e conflitos pessoais. O trabalho visto como uma vocação pode ser experimentado como satisfação e fonte de significado, podendo ser um mecanismo propulsor de desenvolvimento interpessoal e espiritual (Siqueira, 2006), levando a uma aceitação pacífica das restrições, injustiças e exigências do trabalho. A espiritualidade pode ser uma defesa que atribui um sentido ao trabalho em que o sujeito encontra um elemento estruturador e integrador da subjetividade, ao ser adotada uma postura de vida que busca sentido, significado para estar no mundo, com a família e também no trabalho, podendo ocorrer uma experiência integradora que lhe dá um sentido de vida maior (Siqueira, 2006). De acordo com essa perspectiva, segundo Farris (2002), o sujeito poderá encontrar a capacidade de retroceder com as experiências e/ou sentimentos que estariam sendo negados. No entanto, Farris aponta que o viés religioso pode também ser usado como um recurso de mecanismo de defesa em momentos de dificuldades ou estresse e propiciar uma negação dos sentimentos de forma que o sujeito não os integra de maneira ativa e criativa em sua vida. O autor alerta que, dessa forma, pode haver uma evitação em lidar com: (a) as dificuldades cotidianas do trabalho; (b) as dificuldades existenciais, em termos de olhar honestamente para si mesmo; (c) os erros ou enganos, verdadeiros ou imaginários, podendo funcionar como removedor da culpa e da vergonha excessiva, ou controlar impulsos e ações; (d) a experiência de ser impotente, ou estar desamparado, ambos em termos da condição humana e das realidades práticas; (e) a experiência da responsabilidade pessoal.
Portanto, apesar do elemento estruturador e integrador da subjetividade encontrado na espiritualidade, se o sujeito se refugiar nela na negação de seus sentimentos e dos sentimentos alheios, poderá ver-se impossibilitado de mediar seu sofrimento de forma efetiva em seu contexto de trabalho. Para isso são requeridas também outras ações que sejam mobilizações propulsoras de mudanças do que gera o sofrer. Seriam as mobilizações subjetivas que têm como principal característica elaborar estratégias de mobilização coletiva, em que são engendrados “modos de agir em conjunto dos trabalhadores, por meio do espaço público de discussão e da cooperação, para eliminar o custo humano negativo do trabalho, resignificar o sofrimento, fazer a gestão das contradições” (Ferreira e Mendes, 2003, p. 55). Essas mobilizações permitem a transformação da organização do trabalho, de suas condições e as relações sociais em fontes de prazer e bem-estar (Dejours, 2001).
No entanto, no relato dos pastores entrevistados no estudo de Ebert e Soboll (2009), até existem reuniões da equipe de trabalho, mas não podem ser consideradas mobilizações subjetivas, visto os objetivos circularem em torno da condução do bom andamento da instituição, na avaliação dos resultados, do desempenho dos evolvidos no ministério e da organização estratégica. Dessa forma, apesar de ser um espaço de integração dos membros da equipe, o objetivo não está relacionado a um enfrentamento das contradições vivenciadas e propulsoras do sofrimento no ministério, mas sim, na avaliação das estratégias empregadas para que a igreja seja conduzida a um melhor andamento, incluindo o bem estar dos membros e o crescimento da igreja.
Dessa forma, ao invés de enfrentar as contradições vivenciadas no ministério por meio de uma mobilização coletiva, numa socialização do sofrimento junto aos parceiros ministeriais, estabelecendo laços de cooperação, confiança e solidariedade, é bem comum o pastor tender ao distanciamento. Ao retornar, volta como quem voltou de uma sessão de abastecimento de energias, para poder continuar suportando submissamente às exigências estabelecidas, tanto no âmbito objetivo como no subjetivo. Infelizmente acaba por não reorganizar as demandas e exigências instauradoras de sofrimento.
Na ocorrência do mau êxito das estratégias de mediação do sofrimento, se instaura a possibilidade do desenvolvimento de desordens psíquicas ou mesmo físicas, estresse, depressão e outras doenças. As estratégias defensivas não transformam a realidade e não impedem o adoecimento, sendo que bloqueiam a relação entre trabalhador e a organização do trabalho ocasionando um sentimento de desprazer e tensão (Dejours, 2007). O processo de adoecimento apresentado por Dejours encontra parâmetros na realidade pastoral, sendo que, segundo a pesquisa de Lotufo-Neto (1997) é crescente entre os ministros religiosos o diagnóstico de transtornos depressivos, transtornos do sono e transtornos ansiosos. O desgaste e o sofrimento se apresentam em estresses relacionados a finanças, casamento, conflitos com os liderados, relacionamento com outros pastores, questões doutrinárias e a sobrecarga de trabalho.
A ausência de uma mobilização coletiva decorre principalmente diante da adversidade social e psicológica causada pela possibilidade do desemprego, sendo que, cada vez mais há a indiferença pelo sofrimento psíquico dos que trabalham. Essa indiferença faz com que homens e mulheres caiam na armadilha das estratégias defensivas suportando o sofrimento sem se deixarem abater, mesmo tendo um custo para sua saúde (Dejours, 2001). No entanto, para que haja a construção do bem-estar e a diminuição do sofrimento no trabalho é fundamental a criação de um ambiente, no qual os envolvidos possam trocar experiências, tendo a liberdade como condição necessária para a estabilidade psicossomática (Dejours, 2004). Isso é especialmente significativo para o ambiente eclesiástico, que professa o acolhimento, a escuta e o apoio em meio às adversidades.
Numa mobilização coletiva as relações ministeriais são construídas em torno da escuta de uns aos outros numa manifestação de um organismo empenhado em cuidar de pessoas e não apenas de uma corporação empenhada em arrebanhar pessoas. Uma igreja mais ocupada em amar, perdoar, exercer a compaixão, a misericórdia, em carregar o fraco e salvar o “perdido”, ao invés de descartar pessoas. Isso inclui também o pastor, o líder que sofre e que se encontra fragilizado muitas vezes. Infelizmente a igreja, em termos gerais, discursa muito bem sobre esses valores, mas sabe pouco sobre eles na prática. Na prática estamos mais conformados com o “padrão desse mundo” do que gostaríamos de admitir. A ideia não é apontar para esse ou aquele contexto, pois se prestarmos bem atenção, perceberemos que esses mecanismos adoecedores estão presentes nas mais diversas “casas” eclesiásticas, sejam históricas, reformadas, conservadoras, pentecostais, neopentecostais ou de qualquer outra ordem comunitária. Penso que temos muito trabalho pela frente como povo de Deus. Que ELE tenha misericórdia e nos abasteça com discernimento, sabedoria e graça.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
DEJOURS, C. A banalização da injustiça social. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2001.
_________, C. Addendum – da psicopatologia à psicodinâmica do trabalho. In: LANCMAN, S.; SZNELWAR, L. I. (orgs.). Christophe Dejours – Da psicopatologia à psicodinâmica do trabalho. Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, 2004.
_________, C.; ABDOUCHELI, E. e JAYET, C. Psicodinâmica do trabalho: contribuições da escola dejouriana à análise da relação prazer, sofrimento e trabalho. São Paulo: Atlas, 2007.
_________, C.; DESSORS, D.; DESRIAUX, F. Por um Trabalho, Fator de Equilíbrio. Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v.33, n.3, p. 98-104, Maio/Junho, 1993.
EBERT, C., SOBOLL, L. A. P. O Trabalho pastoral numa análise da Psicodinâmica do Trabalho. Rio Grande do Sul: Aletheia 30, p.197-212, jul./dez. 2009.
ENRIQUEZ, E. A Organização em análise. Petrópolis: Vozes, 1997a.
FARRIS, J. R. A relação entre religião e saúde mental. Estudos da religião, ano XVI, n. 22, p.163-178, 2002.
FERREIRA, J. B. e MENDES, A. M. Trabalho e Riscos de adoecimento: o caso dos auditores-fiscais da previdência Social Brasileira. Brasília: Ler, Pensar e Agir, 2003.
LOTUFO NETO, F. Psiquiatria e Religião: a Prevalência de Transtornos Mentais entre Ministros Religiosos. Tese (livre-docência), Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. São Paulo, 1997.
MENDES, A. M. B. (Org.) Trabalho em transição, saúde em risco. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2002.
OLIVEIRA, R. M. K. Cuidando de quem cuida: um olhar de cuidados aos que ministram a Palavra de Deus. São Leopoldo: Sinodal, 2005.
PAGÈS, M. et al. O poder das organizações: a dominação das multinacionais sobre os indivíduos. São Paulo: Atlas, 1993.
SILVA, R. R. Profissão pastor: prazer e sofrimento. Uma análise psicodinâmica do trabalho de líderes religiosos neopentecostais e tradicionais. 190 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia). Universidade de Brasília, 2004.
SIQUEIRA, D. Religiosidade contemporânea brasileira: estilo de vida e flexibilidade. Goiás: Revista de Sociedade e Cultura, v. 9, n. 1, 2006.
WOOD JR, T. Organizações espetaculares. Rio de janeiro: FGV, 2001.

















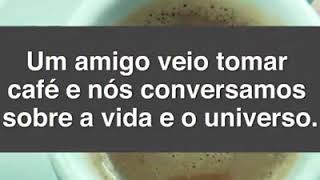





Comentários